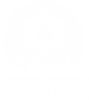História da Hehaver-Ohel Jacob | Parte I
A origem dos “convertidos à força”, o Santo Ofício e um legado na alma portuguesa
Ohel Jacob e os B'nei Anussim
A Sinagoga Ohel Jacob surgiu na década de 1930, numa época em que a comunidade judaica de Lisboa se apresentava maioritariamente sefardita, já estabelecida e estruturada há mais de um século na cidade. Tendo sempre representado uma elite cultural (“Toda a cidade onde as crianças não forem à escola está destinada a perecer.” – Talmude) e tendo prosperado em todos os sentidos, com destaque em funções financeiras e influência política, estes judeus sefarditas tinham contribuído notavelmente para o desenvolvimento de Espanha, em especial no período árabe, e por mais de mil anos, até à data da Reconquista Cristã, em 1492, altura em que os “Reis Católicos” de Espanha – Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela – assinam o famoso e infame Édito de Expulsão de judeus e muçulmanos, conferindo-lhes quatro meses para abandonarem definitivamente o território, tendo uma maioria de judeus (cerca de cento e vinte mil) fugido para Portugal e uma minoria para a Turquia. No entanto, o refúgio português estaria longe de alternativa aceitável. D. João II, que reinava na altura, concedeu estadia às famílias judias mais ricas a troco de altas quantias e tolerou os mais de cem mil refugiados sob propina, dando-lhes um prazo de oito meses para sair do território, escravizando os que nada podiam pagar. Mas findo o prazo estabelecido, a maioria dos judeus ainda se encontrava em Portugal, uma vez que o monarca faltou ao prometido e restringiu estrategicamente os locais de destino para esta emigração, reduzindo-os a Tânger e Arzila, onde os judeus eram maltratados e violentamente desapossados de todos os seus bens pelos mercadores e marinheiros.
Torna-se interessante referir que à data da vinda destes refugiados, contava-se cerca de trinta mil o total de hebreus em Portugal, pelo que a somar os cento e vinte mil judeus fugidos de Espanha, este grupo totalizaria cerca de cento e cinquenta mil, nada mais nada menos que perto de quinze por cento de toda a população portuguesa (calculada em cerca de um milhão, à época), um facto único e sem precedentes na História da nação portuguesa, o que poderia ter sido uma boa oportunidade de crescimento financeiro para a Coroa. Mas em vez disso, o Rei vigente acabou por manchar este período de tragédia e desumanidade. Retirou à força os filhos a seus pais (cerca de setecentos judeus até 14 anos de idade), para povoamento da ilha de S. Tomé “para que, sendo apartadas dos pais e suas doutrinas, e de quem lhes pudesse falar na lei de Moisés, fossem bons cristãos, e também para que, crescendo e casando-se, pudessem povoar a dita ilha, que por esta causa daí em diante foi em crescimento”. Evidentemente, nenhuma das crianças resistiu ao inóspito clima e perigos da ilha, episódio que valeu a D. João II a mudança do cognome de “Príncipe Perfeito” para “O Tirano”, tendo merecido indiscutível repúdio por parte de todos os cronistas e historiadores.
No reinado seguinte, D. Manuel I liberta todos os escravos judeus, mas esta lufada de esperança duraria pouco tempo, apenas quatro anos, até à data em que o monarca decide casar, por questões de interesse político, com a Infanta D. Isabel, filha dos “Reis Católicos” que haviam expulsado os judeus e muçulmanos de Espanha cinco anos antes. Tendo D. Isabel exigido o mesmo procedimento de seus pais ao futuro esposo, para que por altura do consórcio não existissem mais judeus em Portugal, D. Manuel, informado sobre as consequências drásticas da perda de uma classe média dominante, composta maioritariamente por judeus – úteis nas áreas comerciais, industriais e fiscalizadoras do reino (tendo ainda em conta a expansão comercial marítima e que todos os cartógrafos competentes, indispensáveis à navegação, eram judeus ou muçulmanos) –, anuiu inicialmente, casou, mas não cumpriu, recorrendo a uma estratégia dissimulada que servisse tanto o intuito espanhol como o português – ao invés de expulsar os judeus do território, valeu-se de vários expedientes para que estes simplesmente deixassem de ser judeus; ora ordenando o baptismo forçado de seus filhos, ora bloqueando as saídas por mar, ora prometendo vinte anos de trégua religiosa mediante uma conversão aparente. Extinguiu as judiarias, transformou as sinagogas em igrejas e os judeus passaram a ser denominados de cristãos-novos.
Ainda assim, milhares de hebreus debandaram, espalhando-se por diversos territórios, em especial o Norte de África, além da Síria, Palestina, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Itália e Rússia, pois que no reinado seguinte, D. João III solicita autorização a Espanha para instituir a Inquisição em Portugal, a qual é concedida três anos mais tarde, em 1536 – não mais que uma estratégia inequívoca de tentativa de solução para as dificuldades económicas do Estado, uma vez que a prática de um rito por parte de indivíduo convertido a outro rito constituía crime de apostasia, punido com a morte e confiscação de todos os bens. A repressão das conversões fingidas “propostas” pelo anterior monarca tornou-se assim numa potencial fonte de receita no reinado de D. João III, viabilizada pela Inquisição e o estabelecimento do costume de Inquirições, prática que terá acentuado a distinção entre Novos e Velhos cristãos, algo despercebido nos reinados anteriores. Desta forma, iniciava-se uma nova era de terror em Portugal – a era da denúncia, não como um acto cobarde ou sórdido, mas como um acto virtuoso, de obrigação moral, uma era de intensa repercussão na alma portuguesa e ruptura na consciência nacional.
Aos olhos do clero dominante e, por conseguinte, aos olhos do próprio povo, os ditos cristãos-novos continuavam a ser considerados judeus, sistematicamente culpados de todas as desgraças do reino, incluindo a peste negra, base de atmosfera de histeria que terá inclusivamente levado ao vil massacre da Primavera de 1506, perpetrado pelos frades Dominicanos, durante o qual foram barbaramente sacrificadas acima de duas mil vidas de judeus em apenas três dias.
Salienta-se que os “marranos” fugidos tentaram regressar à fé Judaica nos países de destino, mas nem sempre o puderam fazer livres de profundo trauma emocional, em comunidades judaicas há muito estabelecidas, completamente alheias e, portanto, indiferentes às circunstâncias terríveis vividas por estes ex cristãos-novos, que acabavam não sendo admitidos pelos Rabinos mais literais dessas comunidades, como o caso de judeus célebres referidos pelo Rabino Leo Abrami: Uriel da Costa (que terá inclusivamente posto fim à própria vida), Baruch Spinoza, Eliahu da Luna Montalto, Michel de Montaigne e Juan de Prado, entre outros.
Torna-se importante também sublinhar que no caso dos sefarditas fugidos, estes mantiveram peculiar orgulho nas suas tradições e proveniência ibérica, preservando um rito muito próprio e zeloso que, segundo Leo Abrami, poderá justificar uma das razões da posterior rejeição de sefarditas em relação aos ditos marranos e seus descendentes – os chamados b’nei anussim –, traduzida no desprezo por aqueles que nas suas opiniões haviam optado pela via mais fácil de permanecer em Espanha e Portugal – a sujeição ao baptismo Católico –, desconsiderando as consequências dolorosas dessa alternativa. Não menos que o padecimento sofrido pelos sefarditas fugidos, em especial os do norte de África (onde consta terem suportado agruras), grande parte destes “convertidos à força” viveram séculos de horror, Católicos por fora e fieis à Fé Judaica por dentro, preservando seus ritos e cultura em segredo, aperfeiçoando estratégias de disfarce, evitando o casamento fora dos laços judaicos, arriscando permanentemente a vida à fogueira pelo perigo iminente de serem descobertos ou denunciados, e de quem terá surgido uma cultura específica, dentro do cripto-Judaísmo ( já antes defendido por Maimónides, no século XII – “o direito moral de professar intimamente uma crença e aparentar que se professava outra” [José Hermano Saraiva]), uma cultura hebraica secreta impulsionada pela forte convicção da preservação da identidade judaica no coração destes marranos, graças à qual uma réstia de Judaísmo pôde sobreviver ao longo dos séculos inquisitoriais e florescer posteriormente, aquando o início de uma nova era em Portugal.

Sefarditas > descendentes dos judeus originários de Portugal e Espanha, por sua vez descendentes dos judeus que emigraram para a Península Ibérica após a destruição do Estado Judaico no tempo do imperador romano Tito Vespasiano, aquando da destruição do segundo Templo, no ano 70 da Era Comum.

Marranos > também chamados de Cristãos-Novos, Conversos, Anussim, Criptojudeus, entre outros termos ou expressões mais agressivos ou pejorativos; judeus convertidos à força ao Catolicismo, por D. Manuel I e D. João III (a quem foi concedida a bula da Inquisição, em 1536), entre 1496 e 1773 (aquando decretado o Diploma que pôs fim à discriminação e uso dos termos acima descritos).

Inquirição > Prática aplicada exclusivamente pela Inquisição Portuguesa e Espanhola, pelo Decreto da Sé de Toledo, de 1547, pelo qual se defendia o conceito de “pureza de sangue”, segundo o qual apenas os cristãos que provassem não descender de sangue Judaico ou Muçulmano teriam acesso a cargos Eclesiásticos ou de Estado.